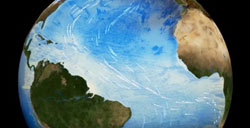 Devido às mudanças climáticas, a gigantesca circulação de águas, que leva calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, poderá diminuir quase pela metade ainda neste século. Se isso ocorrer, as consequências serão dramáticas, tanto em escala global quanto, principalmente, nas porções litorâneas dos três continentes banhados pelo Atlântico: América, Europa e África.
Devido às mudanças climáticas, a gigantesca circulação de águas, que leva calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, poderá diminuir quase pela metade ainda neste século. Se isso ocorrer, as consequências serão dramáticas, tanto em escala global quanto, principalmente, nas porções litorâneas dos três continentes banhados pelo Atlântico: América, Europa e África. Para se ter ideia da importância dessa circulação oceânica, conhecida como Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico, basta considerar que sua potência (quantidade de energia liberada por segundo) é quase 100 mil vezes maior do que a da usina hidrelétrica de Itaipu, com todas as turbinas funcionando. A estimativa mais pessimista do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) é que essa potência, de 1,3 petawatt (1,3 x 1015 W), venha a ser reduzida em 44% até 2100.
Nesse caso, 44% da energia térmica atualmente transportada para as águas frias das altas latitudes do Atlântico Norte ficarão retidas e serão redistribuídas no Atlântico Sul e no Oceano Austral, impactando os centros de alta e baixa pressão, o regime dos ventos, a intensidade e duração das chuvas etc.
Uma forma de aferir a acurácia dessas projeções e desenhar com maior precisão o cenário futuro é olhar para o passado. Isto é, “rodar o modelo para trás” e comparar os resultados obtidos pela simulação com os dados concretos colhidos por meio da pesquisa de campo.
Tal é o propósito do projeto “Resposta da porção oeste do Oceano Atlântico às mudanças na circulação meridional do Atlântico: variabilidade milenar a sazonal”, conduzido pelo paleoclimatólogo Cristiano Mazur Chiessi, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). O projeto é apoiado pela FAPESP por meio do Programa Jovens Pesquisadores.
“Nosso projeto procura avaliar os impactos que as mudanças ocorridas há milhares de anos na circulação oceânica do Atlântico tiveram, na época, sobre o clima da América do Sul e sobre a porção oeste do Atlântico Sul. Um desses impactos, que aconteceu quando a célula teve sua intensidade drasticamente reduzida ou até mesmo colapsou, foi um período prolongado de chuvas torrenciais sobre a região nordeste do atual território brasileiro”, disse Chiessi à Agência FAPESP.
Nas condições atuais, a Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico é uma circulação oceânica de larga escala, que recolhe águas quentes de grande salinidade, situadas no topo da coluna de água do Atlântico Sul, e as leva até altas latitudes do Atlântico Norte.
“Ao longo do trajeto, a intensa evaporação, que ocorre nas baixas latitudes, causa um aumento ainda maior da salinidade. Posteriormente, o resfriamento, nas altas latitudes, provoca uma contração de volume. Conjugados, esses dois fatores, aumento de salinidade e contração de volume, tornam as águas mais densas. E a maior densidade faz com que elas afundem na coluna de água e retornem ao Atlântico Sul em camadas profundas e frias, até alcançar as imediações da Antártica”, explicou o pesquisador (veja a animação em www.youtube.com/watch?v=LkRQjTdTvFE).
Em maior detalhe, o processo é o seguinte. A corrente quente desloca-se para norte, próxima do litoral leste da América, desde a altura de Salvador, no Brasil, até a altura de Nova York, nos Estados Unidos, aproximadamente. Lá, sofre uma inflexão para leste, rumo à Islândia e à Noruega. E, depois de alcançar o norte europeu, retorna ao sul, já como corrente fria e profunda, fluindo paralela à margem leste da América, até chegar às imediações da Antártica.
A grande perda de calor para o meio, que faz a corrente afundar, ocorre em dois sítios específicos: o Mar de Labrador, entre o Canadá e a Groenlândia, e o Mar da Noruega, entre a Groenlândia, a Islândia e a Noruega. “Devido a essa liberação de calor, a temperatura média da superfície oceânica perto do sul da Noruega ou do norte da Inglaterra é muito mais alta do que na porção da costa canadense situada na mesma latitude”, informou Chiessi.
A célula exerce uma influência muito grande sobre o clima, não apenas do oceano, mas também de todos os continentes situados ao redor do Atlântico “Isso vale especialmente para as porções desses continentes banhadas pelo oceano. Na América do Sul, tudo o que está a leste da Cordilheira dos Andes é altamente influenciado pelo fenômeno”, acrescentou o pesquisador.
Ele acredita que, em função das mudanças climáticas, a diminuição da intensidade desse processo oceânico já esteja acontecendo.
“O aquecimento global arrefece a circulação de duas maneiras. Em primeiro lugar, por uma intensificação das chuvas nas altas latitudes do Atlântico Norte, exatamente nos locais em que as águas precisam de maior densidade para poder afundar e retornar ao Sul. Se chove muito nessas regiões, a salinidade das águas superficiais diminui, reduzindo, por consequência, sua densidade e dificultando o afundamento. Em segundo lugar, pelo derretimento da calota de gelo sobre a Groenlândia, liberando água doce, de salinidade extremamente baixa, exatamente nos sítios de formação das águas profundas”, afirmou.
Chuvas torrenciais e prolongadas no Nordeste
Segundo o pesquisador, existe ainda uma grande margem de incerteza nas projeções. Os modelos atuais funcionariam muito bem para algumas variáveis. Mas não tão bem para outras. Daí a proposta de investigar, no passado, períodos em que a circulação esteve bastante diminuída ou até mesmo colapsada, para identificar quais foram as consequências, especialmente na margem oeste do Atlântico Sul.
“O período icônico mais recente de redução da circulação oceânica ocorreu entre 18 mil e 15 mil anos antes do presente, na última grande deglaciação. Com o aquecimento do planeta, as geleiras existentes nas altas latitudes do Hemisfério Norte, especialmente sobre o território canadense, derreteram e lançaram uma enorme quantidade de água doce no Mar de Labrador, arrefecendo ou até paralisando a Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico”, relatou Chiessi.
Para estimar a magnitude do degelo, é preciso recuar mais um milênio, até 19 mil anos antes do presente. Nessa época, no máximo glacial, a concentração de CO2 na atmosfera, atualmente maior do que 400 partes por milhão (ppm), estava muito baixa, na faixa de 175 ppm. E o nível do mar encontrava-se 130 metros abaixo do atual. Toda a água correspondente permanecia aprisionada nas geleiras continentais, principalmente sobre o Canadá e o norte dos Estados Unidos.
Em várias regiões do planeta, a linha da costa havia avançado centenas de quilômetros sobre a área hoje ocupada pelos oceanos. Era possível ir a pé das Ilhas Malvinas ao atual território da Argentina; do sul da Inglaterra à França; do nordeste da Ásia ao noroeste da América do Norte. Não havia o Canal da Mancha, nem o Estreito de Bering, pois estas regiões encontravam-se emersas.
“Entre 18 mil e 15 mil anos atrás, com o aquecimento, as geleiras começaram a lançar uma extraordinária quantidade de icebergs no Mar de Labrador, diminuindo a salinidade das águas superficiais e, portanto, a intensidade da Célula de Revolvimento. Acredita-se mesmo que possa ter havido um colapso total da circulação. A potência de 1,3 petawatt de calor teve que ser redistribuída ao redor do Atlântico Sul e do Oceano Austral. E chegou a aquecer expressivamente a Antártica”, informou o pesquisador.
Devido a isso, a chamada zona de convergência intertropical, localizada onde a superfície do oceano é mais quente, e, consequentemente, a evaporação e a concentração de nuvens alcançam os valores mais altos, deslocou-se para o sul. Hoje, ela está situada em média entre 5 e 10 graus ao norte da linha equatorial. Naquela época, migrou para o sul do Equador, provocando chuvas torrenciais e prolongadas sobre o nordeste do território brasileiro.
“Um de nossos trabalhos, publicado em Earth and Planetary Science Letters no ano passado, evidenciou tal fenômeno”, disse Chiessi, referindo-se ao artigo Origin of increased terrigenous supply to the NE South American continental margin during Heinrich Stadial 1 and the Younger Dryas.
A pesquisa constatou um colossal aumento da taxa de sedimentação no fundo oceânico, em decorrência da erosão causada pelas chuvas e do arraste de sedimentos pelos rios, mar adentro. À frente da foz do rio Parnaíba, no Piauí, mas já em alto-mar, a mais de um quilômetro de profundidade, a taxa de sedimentação alcançou o valor de 100 centímetros em mil anos. Este é o padrão de sedimentação do Amazonas, que é um rio gigantesco. No entanto, foi igualado pelo Parnaíba, um rio de porte incomparavelmente menor.
“Devido às chuvas que incidiram sobre o Nordeste, o Parnaíba depositou em alguns locais uma quantidade de sedimentos equivalente àquela depositada pelo Amazonas. No mesmo período, há registros de uma grande diminuição das precipitações ao norte, na Venezuela e na América Central”, comentou Chiessi.
“Nós coletamos e analisamos entre oito e nove metros de coluna sedimentar em dois sítios marinhos: um deles ao largo da desembocadura do Parnaíba, o outro ao largo da Guiana Francesa. O primeiro foi coletado a 1.367 metros de profundidade. O segundo, a 2.510 metros”, detalhou.
Conforme descreveu o pesquisador, o processo de coleta é o seguinte. Primeiro, com o emprego de ecossonda de penetração, é feita a imagem do subfundo oceânico. Isso informa como estão as camadas sedimentares, se existem ou não distúrbios de sedimentação. Em regiões onde não há distúrbios, é enviado, então, do navio para baixo, um equipamento com mais de 5 toneladas chamado “testemunhador a gravidade”.
Por gravidade, o “testemunhador” chega ao fundo oceânico e penetra suavemente na camada de sedimentos não consolidada, recolhendo, sem distúrbios, de oito a dez metros de coluna sedimentar. Depois, já no laboratório, cada fração da coluna é analisada, obtendo-se, a partir disso, miríades de informações.
Aquecimento poderá reduzir em até 44% a circulação das águas do Atlântico (Video YouTube)
Defasagem entre o aquecimento do oceano e do continente
“Seguindo em linhas gerais essa mesma metodologia, outro trabalho nosso mostrou que o aquecimento do Atlântico Sul não provocou uma elevação imediata da temperatura do continente. As águas do oceano aqueceram-se há cerca de 18 mil anos, porém esse aquecimento só foi manifestar-se em terra firme por volta de 16,5 mil anos atrás. Houve uma defasagem de um milênio e meio”, afirmou Chiessi.
Segundo o pesquisador, foi apenas com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, associado à deglaciação, que a temperatura continental começou finalmente a ascender. Tal conclusão foi comunicada por ele e colaboradores em artigo publicado em Climate of the Past, jornal da European Geosciences Union: Thermal evolution of the western South Atlantic and the adjacent continent during Termination 1.
Aqui, é importante definir com precisão a sequência causal. Em primeiro lugar, o início do processo de deglaciação, provocando o despejo de água doce no Mar de Labrador, arrefeceu ou colapsou a circulação oceânica. O calor aprisionado no Atlântico Sul aqueceu, então, não apenas as águas do litoral leste sul-americano, mas também as águas ao redor da Antártica. Isto fez com que os ventos de oeste, que sopram intensamente sobre a Patagônia, migrassem para o Sul. Com a migração, esses ventos aumentaram, nas cercanias da Antártica, o fenômeno da ressurgência, trazendo águas profundas para a superfície do oceano.
Por um lado, a intensificação da ressurgência provocou uma explosão de vida marinha na região, porque muitos nutrientes que estavam no fundo oceânico foram disponibilizados. Por outro lado, liberou na atmosfera o CO2 que estava aprisionado no fundo. E foi esse gás de efeito estufa que gerou o aquecimento suplementar que encerrou de vez a glaciação.
“Não fomos nós os primeiros a correlacionar a última deglaciação com o aumento da concentração de CO2. Isso foi feito por Jeremy Shakun em um artigo famoso, publicado na Nature em 2012: “Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation”. Esse trabalho teve grande repercussão na comunidade científica, recebendo várias citações”, ressalvou Chiessi.
“Então, não tivemos a primazia na sugestão do mecanismo. A característica inédita do nosso trabalho, se podemos dizer assim, foi corroborar a asserção de Shakun a partir da análise de uma curva de temperatura oceânica e uma curva de temperatura continental em um mesmo testemunho sedimentar”, continuou.
O pesquisador estabeleceu a série de temperaturas oceânicas a partir da análise química de conchas muito pequenas de zooplâncton depositadas nas várias camadas da coluna de sedimentos. E estabeleceu a série de temperaturas continentais analisando lipídeos produzidos por bactérias da microbiota do solo, levadas ao oceano pelas chuvas. Assim, a partir de um mesmo testemunho sedimentar, pôde chegar às temperaturas do oceano e às temperaturas do continente.
“Isso foi muito interessante, porque eliminou o problema de sincronização dos registros. Os registros já estavam sincronizados pelo fato de se encontrarem no mesmo estrato da coluna de sedimentos. Construindo as curvas, pudemos verificar que a temperatura continental não acompanhou no curto prazo o aquecimento do oceano. Realmente só aumentou quando houve a elevação da concentração de CO2, não antes”, comentou.
Na interpretação do pesquisador, essa defasagem entre o aquecimento das águas e o aquecimento da área continental é uma evidência de que a Terra só saiu realmente da última glaciação após o aumento da concentração de CO2, como afirmara Shakun. A importância singular da descoberta do papel do CO2 se deve ao fato de que, há até bem pouco tempo, as entradas e saídas de glaciações eram atribuídas exclusivamente a variações na órbita terrestre.
“A correlação das glaciações com a variação orbital, estabelecida pelo geofísico sérvio Milutin Milankovitch (1879 – 1958), predominou da década de 1950 à década de 1980. Mas, já nos anos 1990, os estudiosos da área começaram a perceber que esse modelo fazia sentido, mas não era completo. Faltava alguma coisa nele. E essa coisa é justamente o papel do CO2, que Shakun mostrou ser fundamental para levar adiante a deglaciação”, enfatizou Chiessi.
Por volta de 15 mil anos atrás, a religação da circulação oceânica modificou o cenário abruptamente. Em poucas décadas, a temperatura na Europa subiu 6 ou 7 graus Celsius. Foi um aquecimento regional em função da redistribuição da energia térmica que estava confinada no Sul.
Mas houve flutuações menores posteriormente. E isso ensejou um terceiro trabalho de Chiessi e colaboradores, publicado em Paleoceanography: Holocene shifts of the southern westerlies across the South Atlantic.
Estudar o passado para aperfeiçoar o cenário futuro
“Nesse terceiro trabalho, mudamos as balizas temporais, enfocando as modificações ocorridas nos últimos 10 mil anos. Essas modificações não foram tão grandes como aquelas da deglaciação. Mas tiveram sua importância e são relevantes na construção dos cenários atuais – até porque a previsão para o final do século é uma redução da ordem de 44% na circulação oceânica e não um colapso. É importante frisar isto: as projeções não indicam um colapso. Assim, fomos investigar o que ocorreu com os ventos de oeste, durante o Holoceno, quando houve também uma redução parcial da circulação”, afirmou o pesquisador.
Para isso, foram selecionados três testemunhos sedimentares: um ao largo do Rio Grande do Sul; outro bem à frente de Buenos Aires; e o terceiro um pouco mais ao sul, ainda nas imediações da costa argentina. E, a partir deles, foram reconstituídas as características da faixa norte dos ventos de oeste durante os últimos 10 mil anos. Verificou-se que, no longo prazo do Holoceno, houve uma migração desses ventos para o sul.
“Investigamos esse passado não tão distante usando o mesmo modelo empregado pelo IPCC para a projeção do clima futuro. Foi, então, um trabalho de validação de modelo. E o modelo reproduziu muito bem o padrão que detectamos empiricamente. Mas subestimou a amplitude da migração dos ventos para o sul em uma ordem de grandeza. Ou seja, estimou como 10 algo que valia 100. Ora, o modelo também projeta, no futuro, uma migração dos ventos para o sul. Se, no cotejo com os dados do passado, detectamos a subestimação de uma ordem de grandeza, é possível que a projeção também esteja subestimando na mesma escala”, alertou Chiessi.
“O modelo acertou na direção dos ventos e no intervalo de tempo da variação. Mas não na amplitude da mudança. E isso é muito preocupante. Pois pode indicar que, até o final do século, a migração dos ventos para o sul venha a ser muito maior”, prosseguiu.
Se for muito maior, entre outras consequências, poderá ocasionar uma redução da área de sequestro de CO2, situada ao sul dos ventos de oeste, na costa da Argentina, e um aumento da área de emissão de CO2, localizada ao norte dos ventos de oeste, na costa do Uruguai e do Brasil. Então, haverá o risco de uma emissão de CO2 ainda maior do que a estimada.
Em conjunto, os três estudos evidenciam a importância da inter-relação entre a paleoclimatologia, a climatologia atual e a modelagem climática para a projeção do clima futuro, buscando, no passado, eventos que funcionem como análogos de eventos futuros e testando no cotejo entre a simulação e os dados empíricos a acurácia das projeções.
“Além disso, a paleoclimatologia permite abrir os horizontes dos modelos climáticos, colocando em evidência reações não necessariamente lineares. Os modelos têm dificuldade em lidar com variáveis não lineares. Um aporte de informações do passado pode contribuir para a melhoria das projeções”, concluiu Chiessi.
Iniciou-se em 21 de março, e deverá se estender até 15 de abril, o cruzeiro oceanográfico SAMBA (South American Hydrological Balance and Paleoceanography during the Late Pleistocene and Holocene), com o navio de pesquisas oceanográficas alemão Meteor. O cruzeiro, do Rio de Janeiro a Fortaleza, coletará dados e amostras da coluna de água e de sedimentos do fundo oceânico. O cruzeiro contará com participantes da Universidade de Heidelberg, na Alemanha (André Bahr), da Universidade Federal Fluminense (Ana Luiza Albuquerque) e da Universidade de São Paulo (Cristiano M. Chiessi), entre outras instituições.
Agência FAPESP



